Curadoria 2016
A Bienal Policêntrica do Brasil
Claudinei Roberto
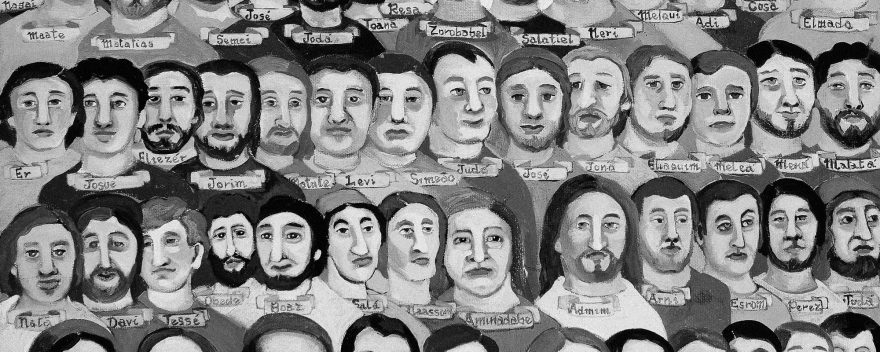
“Todo mundo é, exceto quem não é”, título proposto pela curadora Clarissa Diniz para 13ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, é mais uma proposição nascida das inquietações estimuladas pela singularidade dessa série de eventos – as Bienais Naïfs do Sesc em Piracicaba – que ao longo de três décadas não se deixaram domesticar e que, na definição do professor Danilo Santos de Miranda, são insubmissas e verazes. Esta bienal, como aquelas que a precederam, formula em chave potente hipóteses impossíveis de serem esgotadas no texto que segue, pois, ela é, além do mais, um acontecimento que só se completa e ganha seu sentido maior na interação com público que ela saberá cativar.
Será verdade que o Brasil nasceu moderno? Isto é, surgiu como resultado inevitável de uma época que viu nascerem as tecnologias necessárias à epopéia das grandes navegações? Se for afirmativa a resposta a essa pergunta, este país é o filho dileto dos prodígios de um período revolucionário na história da humanidade, período que permitiu no século XVI a realização daquelas jornadas que redundaram no “achamento” do Novo Mundo.
Foi Mario Pedrosa (1901–1981), intelectual e militante político pernambucano, inventor da moderna crítica de arte no país, quem vislumbrou uma suposta vocação brasileira para o Moderno, vocação presente já na gênese da constituição da “civilização brasileira”. Contudo, e apesar disso, subsistem entre nós ambivalências lastreadas numa história que determinou a permanência de componentes culturais pertencentes a uma ancestralidade muito remota, pré-cabraliana, componentes nativos e estrangeiros como aqueles que reconhecemos em nossa matriz de origem africana.
Mais uma vez, a Bienal Naïfs do Brasil, tradicionalmente realizada na cidade de Piracicaba, município do Estado de São Paulo, apresenta ao público questões que ao longo dos 30 anos da existência desse evento tem inquietado críticos, historiadores, educadores, curadores e toda a gente que, por um motivo ou outro, tenha tomado contato com essas exposições. Inquietações que não são apenas inspiradas pela eloquência potente e lírica das obras que ali foram e são exibidas, inquietações que, aliás, são também nutridas pela fortuna crítica representada pelos textos impressos em seus catálogos, e que foram paulatinamente constituindo um acervo inestimável aos pesquisadores interessados na matéria.
Por tudo isso, as exposições bienais representam e constituem um acervo de mostras que no decorrer do tempo, com suas múltiplas proposições, têm logrado oferecer um panorama abrangente, ou tão abrangente quanto possível, do estado da arte brasileira, corajosamente valorizada numa chave policêntrica que busca, por isso mesmo, dar voz e vez a atores os quais no jogo social de poder são subordinados e ignorados pelo sistema que não os absorve, ou quando o faz neutraliza e domestica nessas produções o seu potencial corrosivo, político e até poético.
A história e a “evolução” das exposições bienais promovidas pelo Sesc em sua unidade de Piracicaba instam-nos a inevitáveis questionamentos, a saber: Por que essa instituição tem investido tamanho esforço na promoção dessa parcela da produção artística nacional? Ou ainda – Que critérios estiveram implicados na formulação de políticas que permitiram a Bienal Naïfs do Brasil consagrar-se como evento de referência no Brasil e no mundo?
O Serviço Social do Comércio – Sesc surge em 1946, no exato momento em que o Estado Novo desaparece; e surge, salvo engano, como contribuição para a redemocratização do país, como resposta às necessidades latentes de parte de sua população. Parte das respostas a estas inquirições residem também no fato história das exposições de arte coincidir com a história da arte em geral, estando o Sesc, portanto, implicado como agente protagonista e central na construção da história da arte no Brasil contemporâneo dado o apoio que empresta regularmente à arte de matriz popular, não acadêmica e periférica.
Seria necessário considerar que certas exposições seminais não apenas confirmam as transformações em torno das ideias que definem (no Ocidente) a própria arte, mas também sinalizam para mudanças de paradigmas no bojo do próprio sistema que abriga e difunde (ou não) essas expressões da arte. Ou, se quisermos, a história das exposições de arte dimensiona e dispõe as obras em relação dialetal umas com as outras, de modo a oferecer uma perspectiva múltipla delas, formulando conceitos e prognósticos que de outro modo seriam difíceis de estabelecer e acessar. Ou ainda – o conjunto de obras organizadas em exposição cria uma narrativa um tanto mais elástica, polifônica e completa que aquela que a obra isolada seria (é) capaz de formular.
Para além da importância que esse conjunto de exposições bienais supõe, ele também nos informa que ao longo dessa história, de forma mais ou menos enfática, as polêmicas em torno do termo Naïf e a consequente classificação dos artistas supostamente aderentes a essa “corrente” diz mais respeito à própria construção da sociedade brasileira fortemente marcada pela injustiça social, do que da mostra em si mesma. Herdeira de uma cultura indelevelmente maculada por cerca de quatro séculos de sistema escravista, autoritário e patrimonialista, a sociedade brasileira ressente-se, ainda agora, dos abismos que separam em classes o seu povo. Classes que, numa perspectiva menos otimista, são conciliadas e apaziguadas somente nas projeções de alguns antropólogos e historiadores ou, mais grave, pela força coerciva dos aparatos jurídicos e repressivos do Estado. Como nos informa o antropólogo e fotógrafo Eduardo Viveiro de Castro:
“O Brasil não existe. O que existe é uma multiplicidade de povos, indígenas e não indígenas, sob o tacão de uma “elite” corrupta, brutal e gananciosa, povos unidos à força por um sistema midiático e policial que finge constituir-se em Estado-nação territorial. Uma fantasia sinistra. Um lugar que é o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. Mas entre o paraíso e o inferno, existe a terra. E a terra é dos índios. E aqui todo mundo é índio, exceto quem não é.” 2
Se for verdade que no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil a arte (e alguns dos seus derivados diletos) só encontra espaço em dois ambientes rarefeitos – o mercado e o museu, sendo este último comprometido em graus variados com aquele –, é também verdade que essa “fetichização” do artefato artístico paradoxalmente diminui sua autonomia, pois proporciona sua mais intensa instrumentalização para que de seu “uso” resulte a afirmação dos valores (estéticos, éticos, econômicos) de um dado grupo social em detrimento de outro. É, salvo engano, o que sugere Néstor García Canclini em seu “ A socialização da arte – Teoria e prática na América Latina”:
“O ato de separar as obras de arte dos demais objetos, de encerrá-las em espaços fechados, de superestimar os aspectos subjetivos da produção nada tinha a ver com o sistema econômico que regula a circulação dos outros objetos. Todavia essa autonomia é duplamente ilusória: historicamente, porque a arte a adquire, pela primeira vez, graças às novas condições de produção geradas pelo capitalismo; e estruturalmente, porque a ordem relativamente autônoma da arte reproduz em seu campo específico as leis que regem o modo de produção geral. No sistema capitalista, as obras de arte, como todos os bens, são mercadorias, razão pela qual o valor de troca prevalece sobre o valor de uso. As qualidades concretas – que importam na seleção inicial das obras e são exaltadas a nível ideológico pela estética da originalidade – acabam anuladas pelo mercado.” 3 (grifos do autor)
Entre nós, dado o grau de desenvolvimento do mercado de arte ou da falta de desenvolvimento dele, essa dicotomia se expressa também no problema da difusão e circulação das obras de arte e, sobretudo, daquela parcela da produção artística que só marginalmente alcança, quando alcança, uma valorização qualquer que lhe garanta alguma visibilidade, concordando que esta visibilidade é importante, admitindo a princípio que a obra de arte, constituindo linguagem, existe “em”’ e “na” dinâmica complexa de relações estabelecidas entre elas, obras, e aqueles que as produzem, fazem, circulam e/ou “apenas” usufruem delas.
Fazer “circular” a obra implica, obrigatoriamente, na formação de um público que dê sustentação a esse circuito. Aqui estamos na seara inevitável da Educação e da educação para arte e pela arte, educação que entre nós, pelos motivos já citados, ainda não recebeu do Estado a atenção devida. Sobre esse assunto valeira a pena ouvir a educadora Ana Mae Barbosa, que, autora do importante “História da Educação Artística no Brasil”, foi também curadora da Bienal Naïfs do Brasil “Entre Culturas” de 2006.
Durante sua história, iniciada em 1946, há 70 anos portanto, tem sido notória a atuação do Sesc no campo da educação “para” arte e na educação “pela” arte. Esta atuação foi demonstrada por ações e proposições que inovaram em vários aspectos a cultura local. Tomemos como parâmetro inovações introduzidas no campo da expografia que em mais de um momento revolucionaram uma cena carente de iniciativas que transgredissem os limites do senso comum na busca de uma linguagem expográfica autêntica e tão original quanto possível no diálogo com seu meio e sociedade. Foi esse o caso da mostra realizada em 1982, “Mil Brinquedos para criança brasileira”, realizada no então recém-inaugurado e então denominado Centro de Lazer – Sesc “Fábrica da Pompeia”. A chave que abria a porta e dava acesso ao universo da arte era o brinquedo, mas o brinquedo “gambiarra”, o brinquedo invenção, o brinquedo que em tudo se fazia entender na sua ludicidade, como “um útil objeto de fruição, também, estética” em divertido diálogo com o espaço mágico de utopia de convívio criado pela arquiteta Lina Bo Bardi.
Apesar disso infelizmente ainda persiste entre nós uma concepção que estabelece a divisão entre arte erudita e arte popular, concepção esta historicamente construída e possível, por isso mesmo, de ser rastreada, tarefa, aliás, felizmente empreendida pela crítica e historiadora de arte Aracy Amaral em seu fundamental “Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: subsídio para uma história social da arte no Brasil”, de 1984. A questão esteve no cerne das polêmicas que envolviam problematizações sobre uma arte genuinamente nacional e popular no auge dos debates realizados nos feéricos anos 60 e 70 do século passado. O já mencionado Mario Pedrosa em texto de 1975 participando desse cenário não se furta ao debate e esclarece:
“Que significa essa distinção? Sempre existiu diferença entre arte culta e arte popular?
Na realidade, essa é uma diferença que aparece na época moderna. Na arte primitiva, nas pinturas rupestres das cavernas de Altamira, por exemplo, não podemos distinguir a parte reservada à arte erudita da parte que seria arte popular. Pode-se dizer o mesmo da arte egípcia, da arte pré-colombiana, da arte medieval, para citar outros exemplos. A diferenciação entre ambas nasce com a sociedade capitalista, com a formação da burguesia, com a divisão da sociedade em classes. Nela se expressa a dominação ideológica e de classe da burguesia (que se identifica com a arte erudita) sobre as classes dominadas e sobre a arte popular de origem camponesa ou proletária. É, portanto, natural analisar esta distinção dentro do contexto das lutas de classes.
A “arte erudita”, “arte culta”, “arte burguesa” ou simplesmente a arte constitui um dos “aparelhos ideológicos” (para usar a terminologia de Althusser) em que se apoia o poder da burguesia. Com efeito, ideias como “o criador”, “o artista”, valores da sociedade burguesa, são vinculadas diretamente à ideia de êxito e de triunfo do indivíduo. “O artista” só existe como produtor de arte erudita; quem faz arte popular não é artista, dificilmente um criador, mas apenas um artesão.” 4
A opinião traz a marca forte do momento em que foi emitida. O crítico não podia prever, por exemplo, nem o surgimento das mídias digitais, nem, é claro, o impacto delas no universo das atividades humanas e o seu óbvio reflexo sobre as manifestações artísticas. Mas, apesar disso, a cisão ou contradição entre o popular e o erudito permanece enquanto efeito e não como causa dos abismos que segregam “escolas” artísticas em nichos numa classificação quase sempre arbitrária.
A descentralização da arte e Bienal
Naïfs do Brasil em Piracicaba
A ideia de descentralização e a descolonização da arte passa obrigatoriamente por uma “crítica da visão eurocêntrica da arte” e supõe uma maior atenção às produções culturais periféricas, não subalternizadas ou domesticadas por noções do bem fazer artístico nascidas e impostas nos centros coloniais e “neocoloniais”.
Periferias historicamente marginalizadas e excluídas são, não obstante, notáveis pela capacidade de mobilização e proposição de soluções originais, criativas, sustentáveis e autônomas e estão, neste exato momento, mobilizadas na procura de crescente autonomia. É, portanto, simbólico que um município de médio porte (cerca de 400.000 habitantes que majoritariamente vivem em sua área urbana) no interior do Estado de São Paulo seja sede dessa importante mostra antiga já de 30 anos. É igualmente significativo que essa mostra atinja a longevidade e crescente importância, principalmente considerando um cenário como o nosso, em que as instituições de cultura e arte são normalmente tolhidas e forçadas à extinção precoce porque são tidas como supérfluas e economicamente irrelevantes. Situação, aliás, denunciada por Mario de Andrade em 1935:
“Nós não lutamos pela vida: nós nos queixamos da vida. A isso nos acostumaram, e neste detestável costume preservamos ainda. A uma única iniciativa cultural, todos se queixam porque faltam hospitais, ou porque a situação financeira não permite luxos. De uma proteção à cultura todos desconfiam porque ainda não se percebeu em nossa terra que a cultura é tão necessária como o pão, e que uma fome consolada jamais equilibrou nenhum ser e nem felicitou qualquer país. E em nosso caso brasileiro particular, não é a sublime insatisfação humana do mundo que rege o coral das queixas e das desconfianças, mas a falta de convicção do que verdadeiramente seja a grandeza do ser racional. Nós não sabemos siquer muito vagamente o que faz a realeza do homem sobre a terra; e da própria minoria que ainda soergue a medo o pavilhão da cultura, muitos o fazem porque ouviram dizer, o fazem porque europeus fazem assim. De forma que si elogiam e pedem a Cultura, ainda continuam desprotegendo ou combatendo quaisquer iniciativas culturais. Nós não estamos ainda convencidos de que a cultura vale como o pão. E essa é a nossa mais dolorosa imoralidade cultural.” 5
Essa contradição, longevidade versus cenário adverso, presente na história da Bienal Naïfs do Brasil é talvez explicada pela história dos cuidados que uma instituição vocacionada ao bem estar de milhares de frequentadores, o Sesc, realiza em ações que têm no seu escopo, entre outras atribuições, a “Humanização da vida urbana e Valorização da arte popular”.
Patenteia-se a ideia acima observando-se que, no então chamado Centro de Lazer Sesc “Fábrica da Pompeia”, aconteceu em 1984 a extraordinária mostra Caipiras, Capiaus: Pau-a-pique, cuja coordenação geral ficou a cargo de Lina Bo Bardi e Glaucia Amaral de Souza.
A exposição, que ocupava todo um enorme pavilhão, previu e realizou a construção de uma pequena vila de casas construídas da mais autêntica maneira caipira do pau-a-pique por “seo” Antonio José Mota (Nego Capitão) e dona Tereza Maria das Dores Mota (Zita). E eram casas em escala real, habitáveis, funcionais, de rusticidade bela e sedutoramente aconchegante. Ficava demonstrado, uma vez mais, o engenho e a competência do que uma ideia de civilidade foi capaz de realizar, ideia, infelizmente, em extinção.
A mesma reportagem sobre a competência popular era demonstrada em projetos como a Feira Nacional da Cultura Popular realizada em Outubro de 1976 nas unidades do Sesc CCD “Carlos de Souza Nazareth”, hoje conhecido como Sesc Consolação; Centro Campestre do Sesc e CCD da Pompeia, atual Sesc Pompeia. Ali foram exibidos materiais artesanais e artísticos de 17 Estados brasileiros, visitados pelas equipes da entidade. Paralelamente às peças artesanais, discos, fitas, livros e comidas típicas que a Feira apresentava ao público, eram exibidos diariamente filmes de curta e longa metragem e apresentações de grupos folclóricos de diversas regiões do país.
Essa feira comemorava os 30 anos de existência do Sesc e, como de hábito, ela foi motivo para produção de conhecimento sobre esse fenômeno ao mesmo tempo tão próximo e tão enigmático. A dificuldade em traduzir o “claro enigma da cultura popular” está expressa no trecho do texto abaixo que foi realizado pelo professor Oswaldo Elias Xidieh para o catálogo da Feira.
“Cultura Popular”
“É difícil propor uma conceituação precisa e definitiva do que seja cultura popular. Ela existe, mas logo a uma primeira tentativa de abordagem, essa realidade, aparentemente simples, apresenta inúmeros problemas.
Primeiramente o que é essa cultura, e o que é popular? Tomando-se o termo popular como ponto de partida, depara-se imediatamente com uma gama de situações, em que o “popular” varia desde os quadros mais difusos e gerais – povo – até configurações mais delimitadas no âmbito da sociedade global, ou seja, o popular rural, o popular urbano. Neste último caso são redutíveis ao trabalho científico a partir da identificação de suas atividades diferenciadas, isto é, de sua posição na estratificação social. Somente assim, quero crer, é que se pode destacar ou definir uma base para designar o grupo que numa dada sociedade esta sendo popular (dentro de sociedade abertas à mobilidade e à circulação das elites), ou é popular (em sociedades fechadas).
Com o termo cultura ocorre a mesma problemática. A simples enunciação de cultura popular propõe uma cultura diferenciada em relação a outras formas de cultura presentes e atuantes… Cultura, em termos gerais, tem sido definida, pouco importando a posição teórica e engajamentos científicos e ideológicos dos estudiosos, como um conjunto de traços e padrões materiais e espirituais, formulados socialmente, transmissíveis de geração para geração como meio de socialização e de controle social. Ora; uma tentação se apresenta: estabelecer um “continuum” de etapas culturais. O primitivo dando lugar ao popular, o popular como continuidade do primitivo e fulcro do erudito, civilizado e institucionalizado, urbanizado e superior. Seria uma posição bastante cômoda e “econômica”, numa visão mecanicista e “evolucionista” ou mesmo “positivista” primárias, as etapas culturais formulam-se historicamente, sucedem-se queimando tabelas. (pg.8 e 10)… Há uma cultura popular. O folclore existe. Vez ou outra o sistema volta-se para ele e dele seleciona aspectos para seu reforço. E isso não é bom. Leva – tanto nas sociedades ditas democráticas como nas não democráticas – a estranhas e confusas situações.” 6
No dia 9 de outubro de 1893, nasce em São Paulo Mario Raul de Moraes Andrade, Mario de Andrade, o demiurgo poeta cuja atuação como “intelectual público” foi definitiva na descoberta de um patrimônio por nós até então ignorado. Entre 1927 e 1928 Mario de Andrade coordena duas expedições de “viagem etnográfica” pelo Norte e Nordeste do país. Na segunda delas demora-se no Nordeste em trabalho de coleta e registro de documentos musicais e danças dramáticas populares. É também de 1928 o clássico Macunaíma que está, de maneira tangente, também implicado nesta mostra Todo mundo é, exceto quem não é.
“Seremos lidíssimos! Insultadíssimos. Celebérrimos. Teremos os nossos nomes eternizados nos jornais e na História da Arte Brasileira.”
A previsão acima (até aqui, pelo menos, correta) foi emitida por Mario de Andrade em carta endereçada a Menotti Del Picchia em 23 de fevereiro de 1922, mas apesar da inegável importância que a Semana de Arte Moderna em São Paulo de 1922 adquiriu, ela é mais bem compreendida se colocada em perspectiva com outras iniciativas de caráter similar que vicejaram pelo Brasil daquele período. Mesmo antes das experiências que nos davam notícias das “performances” ocorridas em São Paulo, é fato que “modernismos” outros existiram além daquele normalmente celebrado nos manuais de história.
É também como resultado das pesquisas e debates surgidos nesse momento de inquietação política e cultural, que é criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1933, articulado pelo então ministro Gustavo Capanema, que incluía em sua equipe o poeta Mario de Andrade. É neste momento, durante o período do governo de Getúlio Vargas, que o debate sobre a “nacionalização do Brasil” ganha impulso inédito. Esse debate, é claro, não esteve livre de polêmica, e sua atmosfera é bem comentada no livro do também artista Carlos Zilio “A querela do Brasil – A questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, Di Cavalcanti e Portinari/1922-1945”, publicado pela Edição Funarte no Rio de Janeiro em 1982.
Cerca de 40 anos depois da criação do SPHAN, a arte brasileira encontrou sua “idade da pedrada”, e a Tropicália e o surgimento da contracultura no Brasil vão reavaliar a herança modernista, observando-a em viés crítico, fato que permitirá o resgate de uma personagem momentaneamente esquecida: Oswald de Andrade. O movimento tropicalista surgido como vanguarda artística radicaliza posições que tornam ainda mais complexa a questão do nacional nas artes uma vez que, aderindo às teses oswaldianas, assimila com guitarra elétrica e pandeiro a estética antropofágica na qual convivem a cultura urbana e a de massa; e a oposição binária entre o arcaico e o moderno vai promovendo “banquetes” com os mais variados ingredientes. O que é importante, refuta qualquer ideia de pureza artística herdada de concepções políticas ideologicamente engessadas.
Memória e Biblioteca
Recuperar, classificar, e elencar na história do Sesc todas as exposições que até aqui disseram respeito à cultura popular e naïf colocando-as em perspectiva e confronto com seus contextos é um desafio que merece ser enfrentado, tarefa de monta que precisa ser empreendida pelos motivos que foram expostos aqui. Em sua 13ª edição, “Todo mundo é, exceto quem não é”, a Bienal foi beneficiada pelo trabalho realizado por outros curadores, pesquisadores, técnicos, educadores e todos os que de uma forma ou outra contribuíram para a realização dessas mostras e que, entendendo a gravidade e complexidade do “problema naïf”, não se furtaram a enfrentar o desafio que ela propõe.
Entre as ações anexas à 13ª Bienal está prevista a criação de uma biblioteca de referência sobre o assunto. Seu acervo deve espelhar, já no primeiro momento, a complexidade do tema que pretende abrigar: “arte popular”, “arte naïf”, arte brasileira, e educação. Dela deverão constar os catálogos de todas as bienais realizadas em Piracicaba e também de exposições que tiveram esse tema como mote. Os catálogos são, frequentemente, uma fonte segura e inestimável de informação. Disponibilizá-los numa coleção acessível ao público é uma atitude de inestimável valor cujo alcance será verificado no decorrer do tempo em acordo com a própria história das exposições. A biblioteca é também uma maneira de reverenciar todos os que devotaram seu trabalho para que a Bienal Naïfs do Brasil do Sesc Piracicaba se tenha tornado uma referência aos artistas e estudiosos, brasileiros ou não.
Gostaríamos de agradecer toda a devotada equipe do Sesc Piracicaba, salvaguarda da excelência dessa e de outras Bienais Naïfs do Brasil, as para mim inestimáveis Clarissa Diniz e Sandra Leibovici, e antecipadamente aos educadores responsáveis pela condução do programa educativo, e também a todos os que direta ou indiretamente estiveram implicados neste processo.
Minha gratidão a Elizabeth Brasileiro e sua equipe da Gerência de Estudos e Desenvolvimento do Sesc Memórias pelo indispensável apoio e pela sapiência somente superada pela paciência com este pesquisador.